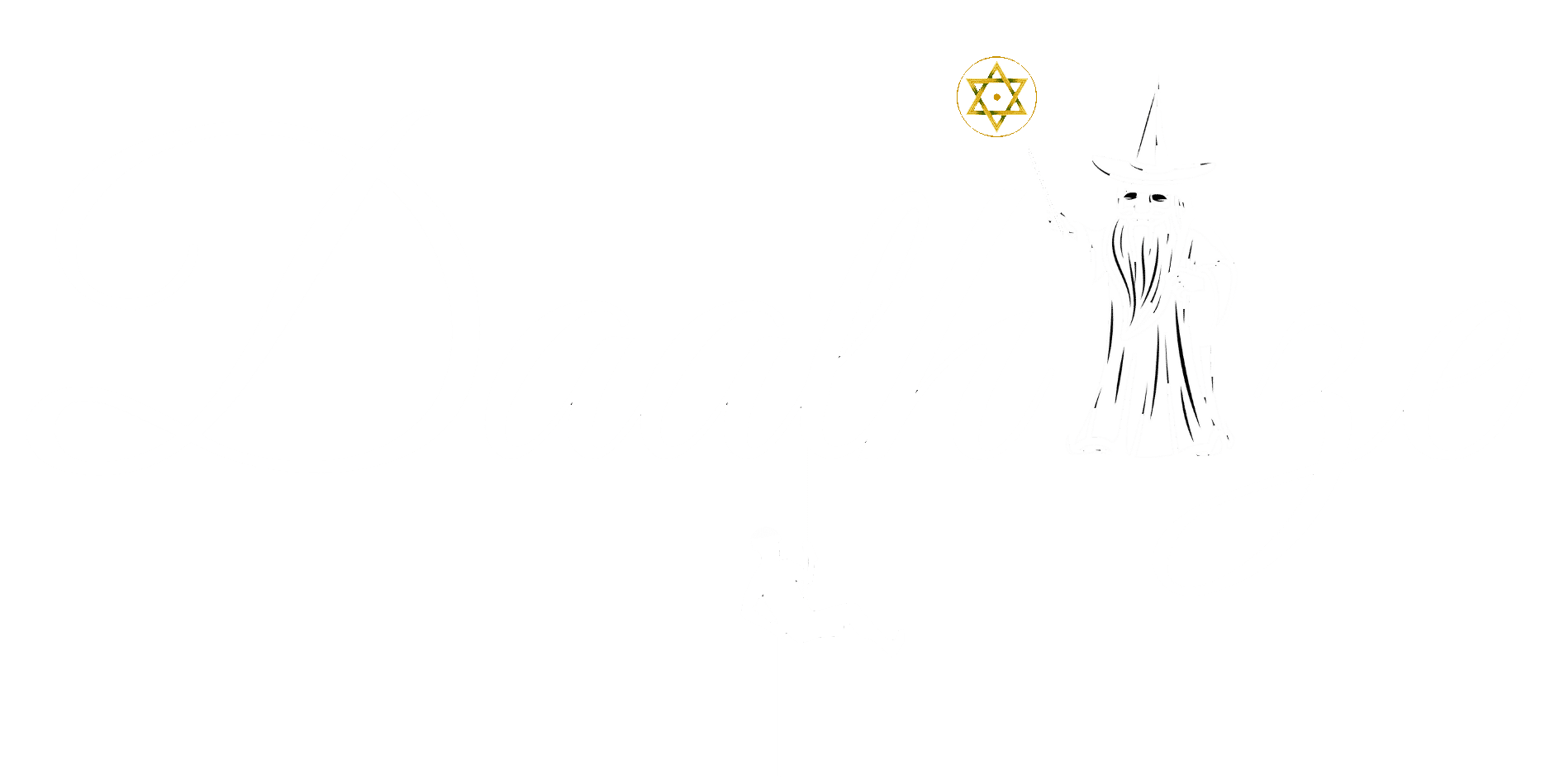Dona Maria Padilha e Dom Pedro I de Castela partiram juntos para Olmedo, onde se casaram em segredo. Viveram relativamente tranquilos até que os inimigos políticos do rei descobriram a união e pressionaram-no a retomar o casamento com sua primeira esposa. No entanto, Dom Pedro preferiu manter Branca de Bourbon afastada, enviando-a para outras cidades.
Eventualmente, Branca foi envenenada e faleceu aos 25 anos. Em 1361, a peste bubônica atingiu o reino, e Maria Padilha, para o desespero de Dom Pedro, foi uma das vítimas. Inicialmente, ela foi sepultada em Astudillo, no convento que fundou. Dizem que o rei nunca superou sua morte prematura e, um ano depois, declarou, diante dos nobres da corte de Sevilha, que sua única esposa verdadeira era Maria Padilha. Ele convenceu o Arcebispo de Toledo a reconhecer o abandono de Branca, principalmente devido ao conflito com os franceses.
A corte aceitou as palavras do rei, consagrando Maria Padilha como a única esposa de Dom Pedro I de Castela, tornando-a rainha legítima, com poder e influência mesmo após a morte. Seu corpo foi transferido para a Capela dos Reis, na Catedral de Sevilha, e seu túmulo tornou-se um local de peregrinação. Na mesma Sevilha, surge o cenário para Carmen, uma cigana que usa seus talentos de canto e dança para seduzir e encantar os homens.
Ela transforma Don José, um cabo honesto do exército, em alguém desregrado. Carmen, bela cigana que atrai olhares por onde passa, conquista o toureiro Escamillo, que se apaixona por ela. O ciumento Don José compete com Escamillo pelo amor de Carmen. Ao consultar as cartas, Carmen vê um presságio de morte. Enquanto o toureiro é aclamado pela multidão, Carmen rejeita Don José, jogando longe o anel que ele lhe deu.
Dominado pela paixão, Don José mata Carmen com uma facada no abdômen. Ao perceber sua loucura, ajoelha-se ao lado do corpo de sua amada e chora. Tanto a ópera de Bizet quanto a história da amante do rei de Castela fornecem o arquétipo da controversa entidade dos cultos afro-brasileiros. Segundo Reginaldo Prandi, “Maria Padilha, talvez a mais popular pombagira, é vista como o espírito de uma mulher bonita, branca, sedutora, que teria sido uma prostituta ou cortesã influente em vida.” Marlyse Meyer publicou, em 1993, o livro “Maria Padilha e toda sua quadrilha”, narrando a história da amante do rei de Castela.
Seguindo pistas da historiadora Laura Mello e Souza (1986), Meyer investiga o Romancero General e documentos da Inquisição para traçar as aventuras e feitiçarias de Dona Maria Padilha, de Montalvan a Beja, de Beja a Angola, de Angola a Recife, e daí para os terreiros de São Paulo e do Brasil, como explica Prandi. Ele acrescenta que o livro é uma construção literária baseada em fatos históricos ibéricos e concepções míticas sobre a Padilha afro-brasileira. Não há provas de que uma é a outra, mas talvez um avatar imaginário. Um dia, quem sabe, poderá ser incorporado à mitologia umbandista.
De fato, não se sabe se Maria Padilha é o espírito da amante do rei de Castela que se manifesta nos terreiros de umbanda e candomblé, e pouco importa. Tanto os fatos históricos da corte de Sevilha quanto a ficção da ópera apresentam a imagem de uma mulher forte, influente, sedutora, transgressora e feiticeira. A pombagira é uma mulher livre. Livre de convenções sociais, moral e ética repressivas, livre do domínio dos homens, livre para fazer o que quiser.
Como a cantiga ilustra: “Ela diz que vem de longe para mostrar quem é. É uma velha feiticeira que trabalha como quer”. “Pombagiras são espíritos de mulheres, cada uma com sua biografia mítica: histórias de sexo, dor, desventura, infidelidade, transgressão social, crime”, afirma Prandi. Muitos terreiros de candomblé incluíram o culto às pombagiras devido a adeptos convertidos da umbanda. Mas na Bahia, onde a umbanda tem pouca expressão, as “Padilhas” também estão presentes.
Nos cultos afro-brasileiros de Pernambuco e do Norte-Nordeste, há “mestras” com o mesmo arquétipo das pombagiras. Nas macumbas cariocas, elas são ainda mais populares e dividem espaço com “malandras e malandros”, entidades do contexto sociocultural dos morros e favelas. A própria Maria Padilha recuperou seu amor em três dias.
Isso ilustra por que as pombagiras são tão populares: resolvem rapidamente questões amorosas. “Eu vim aqui falar com a pombagira para trazer meu amor de volta. Disse a ela que a saudade me apavora. Pergunto a todos onde ela mora.” As pombagiras já fazem parte do imaginário brasileiro. Ângela Maria fez sucesso com a música “Moça Bonita”, ainda cantada nos terreiros. Glória Perez escreveu a novela “Carmem” para a TV Manchete, inspirada na ópera de Bizet, com cenas de Lucélia Santos e Neuza Borges lembradas após 30 anos.
Aquela que bebe, fuma, fala palavrão e vagueia pela noite. Ousada e desafiadora, ela canta ao chegar: “Arreda homem que aí vem mulher.” Ela comanda, liberta, vive. Conhece o prazer e a dor das paixões. Teve todos os homens a seus pés, amou e foi amada, não se curvou, não se deixou subjugar. Aos que falam dela, um recado: “Disseram que não valho nada, que ando pelas ruas. À meia-noite, vou rir na encruzilhada.” Nessas trilhas, ela reina soberana, promovendo encontros e desencontros, ajudando homens e mulheres nas trilhas obscuras e incertas do coração. “Ela vence demanda, tira agulha do fundo do mar.” Mas não mexa com ela, é perigosa. “Juraram me matar na porta de um cabaré. Eu passo de dia, passo de noite. Não matam porque não querem.”